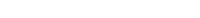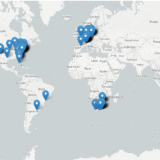O livro de Luciana Moherdaui —Jornalismo sem manchete*— é muito mais que uma discussão sobre o impacto da internet nos modos de produzir a notícia. É, acima de tudo, uma longa e rigorosa pesquisa sobre os novos formatos de textos e de leitura que emergem com as redes, especialmente após a explosão das chamadas redes sociais, como Facebook, Twitter etc. Em uma frase é um mapeamento do terreno e seus abalos sísmicos, contemplando de dentro do terremoto, momentos marcantes da transformação da cultura página em cultura dos dados.
Não se trata de um manual de redação para contextos on-line, nem um livro de ajuda para “sobreviver” ao processo – irreversível – de digitalização da cultura. Fruto de um doutorado em Comunicação e Semiótica na PUC-SP, que contou com apoio da bolsa UOL Pesquisa, a obra de Luciana coloca frente a frente as estratégias de busca de conteúdo noticioso e de construção de sentindo narrativo dos leitores com a capacidade das empresas tradicionais de jornalismo de absorvê-las.
Luciana não recai em análises fáceis. Não supõe a existência de um leitor onipotente que prescindiria de qualquer profissional especializado. Tampouco apela à banalidade que insiste em acreditar que nada mudou, apenas trocamos o papel pela tela. Luciana prefere partir para uma ampla coleta de dados. Isso é feito cotejando dados de audiência, relatórios de empresas de serviços noticiosos, como The New York Times, reportagens, comentários de jornalistas e teóricos da comunicação nas redes, além de farta bibliografia sobre humanidades digitais.
É essa ampla massa de referências que permite à autora centralizar o foco na questão que é central em seu estudo: como compreender (e quais as implicações) da perda de hierarquia da manchete jornalística? Como pensar o processo editorial em um meio em que a home page, que parecia ser um adequado substituto da “primeira página”, faliu à reboque da importância das redes sociais?
A questão de Luciana lembra uma anedota sobre o futuro da leitura figurada nos anos 1980. Naquela época, imaginava-se para o porvir uma cena em que alguém diria olhando para o passado: “eles viviam em uma época em que as bibliotecas continham livros que não ‘conversavam’ entre si” . Esse comentário, disse o especialista no tema Clifford Lynch, traduzia a expectativa de que o livro, no formato digital, se transformaria em uma estrutura de conhecimento ativa. Além disso, acredito, indica que as expectativas embutidas no meio digital vão (e podem ir) muito além de uma evolução no suporte. Elas não se resumem à portabilidade e à facilidade de acesso, mas sim a um novo capítulo na história da leitura.
Máquinas de leitura
A história das máquinas de leitura sonhadas pela humanidade desde o aparecimento do livro impresso na Renascença mostra que o que perseguimos é um livro sem margens e sem fronteiras, capaz de permitir a costura (ou a linkagem) de passagens dispersas, que relativizem o limite imposto pelo volume dos textos. É nessa direção que caminha toda a pesquisa contemporânea de tecnologia de telas e conexão, cada vez mais orientadas para a fruição compartilhada entre monitores de diferentes portes e não nos monitores em si.
Tudo indica que os próximos capítulos da história da leitura devem desenrolar-se para além dos limites das molduras definidas pelas bordas das telas ou das margens papel. Eles apontam para o rompimento com o imaginário clássico do mundo enquadrado pela página (ou pelo limite da tela) para aderir à experiência da leitura mediada pelas redes.
Esse tipo de movimentação alimenta um leitor 2.0, nômade, que lê em distintos dispositivos, e que parece não se contentar mais com a função de consumidor de conteúdo e passa a operar como “curador de informação”. Fermentado por dispositivos móveis, redes sociais e aplicativos, esse fluxo de conteúdo está longe de significar a abolição do texto tradicional ou uma atrofia no repertório cognitivo. Pelo contrário. Ele só existe e cresce para ser linkado, “likado” e comentado. E é justamente essa prática cultural do comentário e do compartilhamento o que legitima a demanda pelo curador de informação, o filtro pessoal pelo qual a avalanche de conteúdo produzido é organizado, fazendo com que os dados possam ser organizados na forma de informações.
Interface cultural
Sem entrar no debate, que me parece escatológico, sobre o suposto fim da mídia impressa, assumimos uma ideia cara à Lev Manovich: toda interface é cultural. Cada interface possui gramáticas próprias e está relacionada a determinados tipos de dados, como o livro e a palavra impressa, o cinema e a imagem em movimento, e, mais recentemente, as HCIs (Human-Computer Interface, Interface humano-computador) que hibridizam elementos de tradições culturais anteriores, ao mesmo tempo que propõe outras novas.
Essa abordagem nos permite entender que mais do que meros receptáculos de textos e imagens, as interfaces performatizam e incorporam um conjunto de práticas sociais e culturais nas quais as significações são construídas. Esse conjunto, que remete a gestos, hábitos, instrumentos de visão, espaços, regimes jurídicos, objetos e posturas físicas, constitui distintos contextos de leitura. No que diz respeito ao contexto de leitura digital, parecem, apontar, seguindo a trilha aberta pelo estudo de Luciana Moherdaui, para o fenômeno da “leitura social” (social reading), feita em sincronia com outros leitores e sendo modificada por eles.
Afinal, a principal particularidade da leitura em rede em relação à impressa reside no fato de que ela ocorre em uma máquina que é a um só tempo, de ler, de escrever e de publicar, cabendo ao leitor, reconfigurar tanto a função do dispositivo em relação ao conteúdo (“correio” ou “jornal”, p. ex), quanto à natureza da atividade (leitura, escrita ou publicação). Isso nos traz a um contexto de leitura sem precedentes, no qual a interface, e não a mídia, é a mensagem. O fim da manchete, como evidencia a autora, é só o começo desse processo.
* – Prefácio do livro de Jornalismo sem manchete deLuciana Moherdaui. (São Paulo: Editora Senac, 2016).