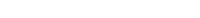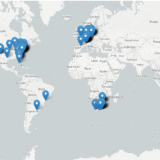Reocupar os espaços informacionais
Giselle Beiguelman
(transcrição da palestra de abertura do SIGRADI2018 – XXII CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL)*
Este Congresso propõe discutir um dos temas centrais da contemporaneidade: as Tecnopolíticas, entendidas “como práticas de concepção, revisão e uso de artefatos tecnológicos que operam como bens comuns, podendo se contrapor aos modelos dominantes de aplicação tecnológica.”
As últimas eleições e o intenso uso que foi feito das redes sociais nortearam minha abordagem. Muito embora esse não seja o tema de minha apresentação, mobilizaram-me a repensar a cultura digital em uma perspectiva histórica.
Testemunhamos não só um uso ultra qualificado e intenso das redes por grupos conservadores, mas o crescimento exponencial dos memes de ódio e a apropriação de discursos que eram típicos da cultura das esquerdas nas redes pela extrema-direita.
Acredito que o momento agora é de reflexão. Temos que repensar a história da cultura digital e a forma de ocupação do espaço informacional.
* Atenção: este texto é a transcrição de uma fala. Prescinde, portanto, do rigor formal de um paper para publicação.
—
Cultura digital: dos anos 1980 à Internet
No final dos anos 1980, quando a cultura digital ainda balbuciava e falávamos em “novas mídias”, dois discursos estéticos, políticos e sociais se consolidaram. Eles marcariam profundamente a nossa contemporaneidade. [Slide 2] Um vinha embutido no ideário distópico de Blade Runner (1982). O outro, no lançamento do novo computador Macintosh (1984), pela Apple. (Manovich, 63) [Slide 3]
Blade Runner era o mundo cyberpunk em miniatura. O filme de Ridley Scott entrou para a história do cinema e do imaginário, colocando em pauta uma Los Angeles distópica, chuvosa e sombria, marcada pela assimetria de poder entre Replicantes e humanos e a disputa pela memória, em um mundo onde prevalece a solidão e a melancolia. Carros voadores, prédios altíssimos e painéis eletrônicos gigantescos davam o tom de previsão do que seria a paisagem urbana no século 21. Exceto pelos carros voadores, a projeção se confirmou. [Slide 4]
Dois anos depois, a Apple lançava um computador que metaforizava a mesa do escritório, por meio de uma releitura californiana da Bauhaus. [Slide 5] Foi toda uma revolução do ponto de vista do Design da Interface Gráfica que determinou os rumos da indústria de consumo da informática para sempre, com sua orientação para a eficiência e beleza asséptica super cool. [Slide 6]
A disseminação da Internet, a partir de meados dos anos 1990, introduziu novos elementos à pauta da cultura digital. Interessava cada vez menos discutir o que eram novas mídias, seus aspectos funcionais ou seu inevitáveis desastres, e cada vez mais compreender as dinâmicas e as potências que as redes mundiais de computadores descentralizadas e interconectadas poderiam oferecer. [Slide 7]
A história da criação da Internet é bastante conhecida e eu não vou repeti-la aqui, retomando seu uso militar e depois acadêmico. Interessa-me é o momento em que ela passa a ser acessível a qualquer consumidor e, por isso, estou fazendo esse corte a partir de meados dos anos 1990.
Gostaria, apenas de frisar, que o preâmbulo desse processo de popularização da Internet é um fato inexplicável na história do capitalismo: o desenvolvimento de um ambiente não proprietário, o que nós chamamos de WWW, que funciona a partir de três tecnologias que também são livres: [Slide 8]
- um sistema de identificadores exclusivos para recursos na Web (URL)
- uma linguagem de publicação HyperText Markup Language (HTML)
- um protocolo de publicação (HTTP)
Essa junção é um corte na forma hierárquica de produção do conhecimento e também de riquezas. Afinal, tornava possível a criação de outros sistemas e extensões sem a preocupação de licenciamento. Isso porque, na Web, um link é unidirecional. Não é preciso de autorização ou ação do autor de um documento para se criar um link. [Slide 9]
Destaco esse ponto não só porque ilumina as motivações de tanto ter se escrito sobre Sociedade do Conhecimento em uma determinada época. Mas, sobretudo, porque mostra como a cultura dos aplicativos implodiu essa lógica, impondo os pedágios dos logins nas lojinhas das principais operadoras – App Store, Google Play e Microsoft – e a navegação nas suas bolhas individualizadas.[ Slide 10]
O Ativismo na “Web 1.0”
É fácil perceber como a ideia do Comum, tão em voga atualmente, estava embutida nos princípios de criação da Internet. Foi isso, essa noção de uma produção que poderia ser feita de forma desautorizada, que esteve na base da teoria e do discurso político sobre a cultura digital dos anos 1990 até o fim da primeira década dos 2000.
Os nomes das principais listas de discussão, revistas e fóruns refletiam essas perspectivas: Syndicate, Net-time, Rhizome, Telepolis, Electronic Frontier Foundation. As exposições também. Basta conferirmos a lista dos projetos participantes de duas mostras históricas: Arte suporte computador (1997), realizada na Casa das Rosas, em São Paulo, com curadoria de Lucas Bambozzi e Jose Roberto Aguillar e NET_Condition (1999), com curadoria de Peter Weibel no ZKM. [Slide 11]
Essa vertente utópica da cultura digital foi capaz de engendrar movimentações que só são compreensíveis na era das redes. A emergência da consciência ambiental, o confronto com a globalização corporativa, como os que ocorreram em Seattle (2002) [Slide 12] e no Fórum Mundial de Porto Alegre, também em 2002 [ Slide 13], a contestação à manipulação da informação feita pelo governo espanhol depois do ataque da Al-Qaeda em 2004, são alguns exemplos. Indicam a inequívoca vocação para a mudança social que se fazia via novos usos das redes, a partir da reprogramação dos usos da comunicação, a partir da redefinição das imagens que as estruturas de poder projetam no espaço público.
[Estamos entendendo aqui que após a introdução da Internet qualquer discussão sobre o espaço público, por todas as transformações que as redes trouxeram à economia e à sociedade, passa pela compreensão do espaço informacional como uma de suas dimensões estratégicas.] [Slide 14]
Com perspectivas de ação distintas, indicavam “a sinergia potencial entre a ascensão da autocomunicação de massa e a capacidade autônoma da sociedade civil ao redor do mundo para definir o processo de mudança social” (Castells , 2009, p. 302, 303).
Toda essa efervescência e horizonte de possibilidades acontecia simultaneamente a um crescimento comercial vertiginoso (que inclusive deu na famosa bolha da Internet, cujo auge foi o ano 2000). Não estamos falando de um mundo cor de rosa. [Slide 15]
No contexto da Internet “desktop” “fixa”, essa relação de tensão entre indústria de bens de consumo e criação artística ou atividade crítica não só foi maximizada, como se transformou (nos anos 1990, em sua primeira década de existência) em seu horizonte de ação. Horizonte esse que era essencialmente ativista e questionador no que tange à ascensão da nova economia.
Alex Galloway, por exemplo, dedicou-se a um estudo pormenorizado sobre a operação das novas formas de controle que se engendravam com o modelo de distribuição de domínios (DNS, Domain Name System), que opera a partir do protocolo TCP/IP. (Protocol: How Control Exists After Decentralization, MIT Press, 2004)
Cito, ainda, aqui, para deixar claro as ênfases do ativismo da época, dois casos marcantes. Duas ações de midia tática, como definíamos o ativismo então, que operaram por meio de pseudoempresas. A eToy – que desencadeou a Toy War (1999), ao ser processada por uma empresa de jogos eletrônicos homônima –, e a da apropriação de domínios, feita pelo Grupo Yes Men, que registrou gatt.org (2003) para difundir contrapropaganda ao Acordo Geral de Comércio e Tarifas (General Agreement on Tariffs and Trade – Gatt) da Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization – WTO) (BAUMGÄRTEL, 2009).
A Gentrificação do Espaço Informacional: a Internet como espaço estriado
Mas com a disseminação das redes Wi-fi, o aumento exponencial do uso das redes com celulares, e o crescimento do papel das redes sociais, essas dinâmicas foram rapidamente apropriadas pelo capitalismo em nuvem e culminaram na gestão gentrificada da Internet.
Essa gestão que estou chamando de gentrificada tem uma peculiaridade essencial. Ela projeta imagens que já não são mais as imagens que nos dominam pelo espetáculo, como as que havia definido Guy Debord. São imagens projetadas por grandes conglomerados corporativos que vêm impondo um processo sem precedentes de “brandificação” do cotidiano. Ela age pela publicidade das marcas e sua aderência a praticamente todas as nuances da vida. Não vivemos mais os desejo de ser a imagem que aparece na propaganda de televisão, no filme de Hollywood.
As marcas não aparecem apenas nos horários reservados aos comerciais. Estão nas camisetas que usamos, nos computadores que operamos, nos celulares que manipulamos e, especialmente, nos conteúdos e serviços pelos quais nos comunicamos, em plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram.
Em uma frase, vivemos a era da “transformação do brand em conteúdo” (Bratton, 128). Nesse contexto, a gestão de marcas passa a significar gestão de valores, e as ideias de nomadismo e mobilidade começam a aparecer embutidas em slogans como “Viver sem fronteiras” (da TIM), “Compartilhe cada momento” (da Claro) e “Conectados vivemos muito melhor” (da Vivo). Apropriadas pelo discurso publicitário, essas ideias são esvaziadas do sentido que possuíam no campo do pensamento libertário contemporâneo.
É sempre bom lembrar aqui que nomadismo e mobilidade são dois conceitos chave da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari. No contexto da discussão filosófica dos autores, o nomadismo é um contraponto à “forma-Estado”. Enquanto a “forma- Estado” tende ao sedentarismo, e aos espaços fechados, pelo estabelecimento do regime de propriedade, os nômades tendem ao “modelo turbilhonar, num espaço aberto onde as coisas-fluxo se distribuem.
O processo de “brandificação” do cotidiano e das relações pessoais opera aí de maneira perversa, por meio da introjeção de valores corporativos que se sobrepõem e se confundem com valores sociais. Passamos a nos relacionar via o imaginário das marcas, que se convertem no “alfabeto” das nossas identidades: “Você é uma pessoa Mac ou uma pessoa PC? Quem você está vestindo? O que tem na sua lista do Netflix?” “Quantos seguidores você têm?” (RUSHKOFF, 2009, p. 118).
Com vidas medidas e mediadas por likes, nos transformamos em presas fáceis de um processo “colonização da percepção” (a expressão é do publicitário Abel REIS, 2007). Essa operação aparece com nitidez no modo pelo qual as corporações vêm transformando palavras de ordem da contracultura em slogans publicitários e bandeiras de suas “causas”. Isso faz com que uma das questões políticas e culturais mais profundas hoje seja uma “batalha de linguagem”, que se reflete na absorção do vocabulário que definia a ética hacker dos anos 1990 – Do It Yourself (Faça você mesmo), compartilhamento e redes sociais, por exemplo – ao discurso dos expoentes do mundo de negócios. da web 2.0 (BAZZICHELLI, 2009).
Basta ler as tradicionais apresentações “About Us” (Sobre Nós), do YouTube, Flickr e Facebook, para constatar de que batalha de linguagem se fala aqui. Repetem-se, como mantras, cada uma com seus acordes próprios, as ideias de uma comunidade para todos, o espaço aberto, a cultura grátis, o compromisso com o compartilhamento e a conexão entre as pessoas.
Não se pode ignorar o papel que as redes sociais tiveram em momentos políticos decisivos recentes, como a primeira fase da Primavera Árabe, Occupy Wall Street (2011), Junho de 2013, 15 de Maio Espanhol e tantos outros. Não foram poucos autores que se dedicaram a analisar esse fenômeno de entrecruzamento de redes e ruas como um dos diferenciais de nosso tempo. Só entre os brasileiros há obras de Malini e Antoun, Bentes e Savazoni que poderiam ser citadas nessa direção.
Não passou desapercebido, mas também não foi tratado por ninguém com a devida profundidade, o fato de termos transformado os principais “aparelhos de captura” da contemporaneidade para montar nossas “máquinas de guerra” [esses são dois termos de Deleuze e Guattari na sua discussão sobre as formas de operação da “forma-Estado” em contraposição ao dos “nômades”].
Mas que tipo de esfera pública podemos de fato discutir a partir de espaços de confinamento subjetivo e sensorial tão evidentes?
A Internet como cidadela e a reocupação do espaço informacional
Faço agora um paralelo com os exemplos com os quais abri essa apresentação – Blade Runner e a Apple — e lembro aqui de uma cena de Blade Runner 2049 (2017), de Denis Villeneuve. O filme repete os mesmos elementos daquela Los Angeles distópica que aparecem no primeiro, mas entram na pauta, também, outros elementos, como a popularização da engenharia genética e novas formas de relacionamento afetivo entre humanos e escort girls digitais, encarnado (na falta de palavra mais precisa) na personagem Joi (Ana de Armas), par romântico de K (Ryan Gosling), o Blade Runner da vez.
A cena que comento traça um inequívoco paralelismo com a versão de 1982, quando uma misteriosa Geisha aparece engolindo pílulas em uma megatela de LED. Ficcional, para época, esse tipo de tela tornou-se um acessório recorrente da paisagem contemporânea. Não seria exagero pensar que as holografias “vivas” do filme mais recente também o serão. Mas não é apenas como indicativo da presença da imagem em escala urbana que esse momento é importante. É também como prenúncio de um outro olhar e de uma outra forma de ver o mundo. Rompe-se aí com o pressuposto da separação dos sentidos e da autonomia da visão, reintroduzindo o corpo no campo das imagens. Algo que já estava presente na estereoscopia oitocentista, mas que agora enuncia, além da tactibilidade, a brecha para que nos vejamos dentro quadro, enquanto olhamos.
Joi se apresenta com o sugestivo slogan “Tudo o que você quer ouvir. Tudo que você quer ver” e é muito mais que uma versão futurista das bonecas infláveis em forma de holografia. Ela é o futuro das imagens e dos afetos. Ela é um aplicativo de serviço. Isso fica claro nessa cena, uma das mais emblemáticas dessa nova versão, quando sai de um painel eletrônico e ganha vida. E depois desaparece, porque K a desliga.
É um mundo desolador. De gente muito sozinha. Onde a principal ruína é o desaparecimento da noção de espaço comum, de laços sociais. Como pensar a política em um contexto assim?
Tim Cook, CEO da Apple, fez há poucas semanas, no dia 25 de outubro, um discurso inflamado, de vinte e poucos minutos, em Bruxelas, sede do Parlamento Europeu, contra as empresas do Vale do Silício, que não deixa dúvidas sobre o que estou afirmando. Mais ou menos aos 7 minutos e 30, da sua conferência, que está no YouTube, ele diz:
“Nossas informações, do cotidiano ao mais pessoal, estão sendo transformadas em armas. Isto é espionagem e este arsenal de dados pessoais apenas enriquece as companhias que os coletam.” Cook diz que a indústria tecnológica se tornou uma ameaça não só à privacidade mas também à própria democracia. (Palavras de Tim Cook… https://youtu.be/kVhOLkIs20A).
Quando pensamos no escândalo do PRISM, da Cambridge Analytica, na forma como o WhatsApp foi intensamente utilizado nas últimas eleições para disseminar Fake News, especialmente via memes, percebemos que o discurso de Cook está longe de ser puro alarmismo.
Migramos muito rapidamente do ambiente de incertezas da web 1.0 para o conforto dos jardins murados da web 2.0, onde as redes sociais floresceram. A facilidade de uso da Web 2.0 é a razão de ser de seu sucesso. Mas é também o que converteu a internet num espaço povoado de “cidadelas” fortificadas, onde as pessoas vivem dentro de alguns poucos sites e serviços populares dominantes.
A Web 2.0 é o enterro da URL, o fim da validade do princípio do link. Neles qualquer um pode tomar parte, porém, apenas de acordo com as regras prescritas pelos algoritmos previamente programados de algumas pouquíssimas empresas.
Contudo, a dinâmica das redes é muito maior e mais interessante que a das redes sociais. E a das cidades combinadas às redes pode ser a via desviante para o alerta que Tim Cook fez em seu discurso, muito embora não seja segredo para ninguém os riscos a que as empresas nos expõem hoje.
Termino com a apresentação desses projetos, Mapa Daqui e Bueiros Conectados, de dois jovens designers Lucas Neumann e Andrei Speridião, não só porque foram desenvolvido no curso de Design da FAUUSP, e portanto no Brasil, mas especialmente por que combinam com extremo rigor e consciência crítica a capacidade de pensar usos dissidentes para as tecnologias em rede, a partir de dinâmicas de compartilhamento, mas fora dos ditames corporativos.
[apresentação dos projetos Mapa Daqui e Bueiros conectados– detalhes em https://issuu.com/lucasneumann/docs/tcc-mapadaqui-lucasneumann-web http://www.bueirosconectados.net/]
É a partir desse tipo de dissidência, acredito, que podemos pensar em tecnopolíticas menos afinadas com o discurso distópico de Blade Runner e mais distantes da eficiência feliz da Apple. Ao mesmo tempo, esse tipo de tecnopolítica emergencial, parasitária, de baixo custo, baseada em inteligências distribuídas, é capaz de nos orientar na reocupação dos territórios informacionais. Isso porque estabelecem um contraponto necessário aos modelos dos territórios de marcas e algoritmos proprietários, que se tornaram estratégicos aos sistemas políticos dominantes contemporâneos.
Nesse contexto, esse tipo de projeto faz um chamado para um discussão sobre a Internet das Pessoas, em detrimento da Internet das Coisas, pela atenção às Cidades Participativas e não às Cidades Interativas. Com foco em Smart Citizens e não em Smart Cities, apontam para outras possibilidades de Reocupar os Espaços Informacionais.
Referências
BAUMGÄRTEL, T. Arte en la red y net.art. In: ROMANO, G. Net art 0.1 – Desmontajes. Badajoz: Meiac, 2009. p. 6-14.
BAZZICHELLI, T. A Reflexion on the Activist Strategies in the Web 2.0 era. Towards a New Language Criticism. Vector b, 22 Janeiro 2009. Disponível em: <http://virose.pt/vector/b_22/bazzichelli.html.>.
BEIGUELMAN, G. Da cidade interativa às memórias corrompidas. São Paulo. Tese de Livre-Docência, FAUUSP, 2016. doi:10.11606/T.16.2016.tde-09112016-145703.
CASTELLS, M. Communication Power. Nova York: Oxford University Press, 2009.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Editora 34, v. 5, 2005.
GALLOWAY, A. R. Protocol: How Control Exists After Decentralization. Cambridge: MIT Press, 2004.
MANOVICH, L. The Language of New Media. Cambridge: Massachusetts: MIT Press, 2002.
NEUMANN, L. Mapa Daqui, 2015. Disponível em: <https://issuu.com/lucasneumann/docs/tcc-mapadaqui-lucasneumann-web>.
RUSHKOFF, D. Life.Inc. How the World Became a Corporation and How to Take It Back. Nova York: Random, 2009.
SPERIDIÃO, A. Bueiros Conectados, 2014. Disponível em: <http://www.bueirosconectados.net/>.